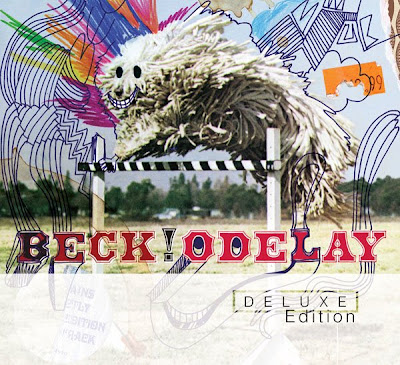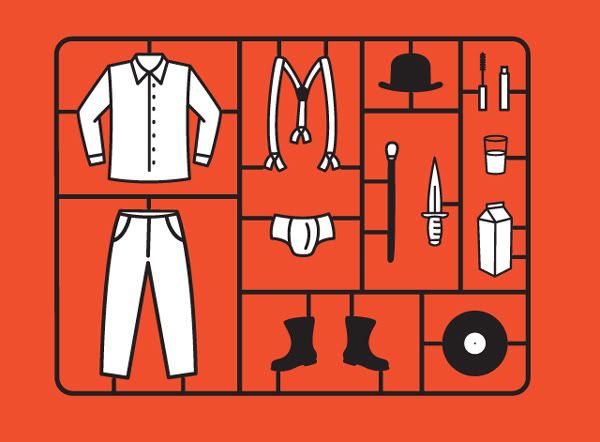(Reportagem publicada na revista Frente #2, junho de 2002)
Hoje rolou a terceira e última noite da 16ª edição do Abril Pro Rock. Apropriadamente separados das duas datas anteriores (11 e 12/4), tocaram Helloween e Gamma Ray. Como combinado, segue a terceira e última cobertura que fiz do festival. Na bowa, o evento já foi mais seletivo. Com as bandas que contratava e com os jornalistas que levava para o Recife.
***
Do exterior, viriam os ingleses do Charlatans e The Mission, os americanos Stephen Malkmus e Karsh Kale, o argentino Ataque 77 e o francês Digicay. Do Brasil, Rodolfo em sua estréia pós-Raimundos, Tom Zé voltando ao Recife depois da recepção avassaladora que tivera ali mesmo havia dois anos, Pato Fu exibindo hits para bancar o headliner e Sepultura liderando a tradicional noite do metal. Da cidade, velhos conhecidos (Mundo Livre S/A), remanescentes do ano anterior (Textículos de Mary, Bonsucesso Samba Clube) e a nova geração (Mombojó). A programação do Abril Pro Rock estava praticamente fechada quando seu organizador, Paulo André, foi assistir ao ensaio de uma banda no primeiro sábado de março. No mês seguinte aconteceria o festival, menção obrigatória na história do pop nacional desde que de seus palcos saíram os tambores que acordaram o resto da nação para a música nova feita na capital pernambucana, no começo da década de 90. Cumprindo seu destino, o evento continuava trazendo artistas estrangeiros pela primeira vez ao País e popstars brasileiros consagrados ou que ali iniciaram sua escalada. Revelar talentos para as gravadoras deixara de ser o atrativo principal, embora o espaço para os artistas desconhecidos locais estivesse assegurado. Às vésperas de sua décima edição, o Abril Pro Rock não era o maior nem o melhor festival do Brasil. Sua fama residia, principalmente, na gênio e na mística de Chico Science; na variedade de seu elenco (de eletrônico a regional e demais rótulos atribuídos pela crítica); e no público, este sim merecedor de todos os superlativos positivos a seu respeito.
O Abril Pro Rock tinha de ser diferente – pense em vibração, energia, astral e outros conceitos abstratos usados para ressaltar (ou salvar) o que sai das caixas de som. Parte desse algo mais passava por aquele sábado. Sonali (irmã de Paulo André), Fred 04 (Mundo Livre S/A) e Luciano Meira (pai de dois integrantes do Mombojó), todos com filhos estudando no Instituto Capiberibe, deram a dica: “Na escola há uma banda formada por uns meninos que você deveria ver”. O organizador chegou no ensaio sem grandes expectativas. “Se esses moleques tocarem direitinho, vou convidá-los para abrir o festival.” Eles tocaram direitinho. O cartaz e as filipetas (com arte de Angeli) podiam ser impressos com a programação definitiva. Entre as atrações do dia 21 de abril, “participação especial: Os Psicopatas”.
Vinte minutos no palco secundário do Centro de Convenções do Recife, sem direito a cachê, para mudar a vida de cinco garotos. Os Psicopatas tocaram cinco músicas pendendo para o hardcore (normal para a idade e a técnica). As duas primeiras, “Ela” e “Azar”, bastaram para atiçar seus fãs. Colegas de classe, crianças de menos de um metro e meio tentando pogar com as letras na ponta da língua, a maioria com camisetas pretas da banda. Os pais, igualmente uniformizados, circulavam nervosos pela frente do palco com câmeras nos ombros a registrar a proeza dos herdeiros. O vocalista anuncia “Escola” e a dedica à professora de matemática. Urros infantis na platéia, amplificados com o verso “equação é coisa de mamão” (mamão = pateta). Confiante, o garoto diz que a próxima é para aqueles que acham que eles não sabem tocar: “Pode Vir Quente Que Eu Estou Fervendo”, de Erasmo Carlos. Para fechar, “Ela” novamente. Marcante para os estranhos, inesquecível para os envolvidos.
Os três acordes que eram encanto nos Psicopatas viraram enfado com Os Subversivos. Não gravassem por um selo chamado Marx Not Dead (Marx Not Dead!), com logotipo trazendo o hirsuto autor de O Capital envolto em estética punk, ou cunhassem o hino “Esmague o PFL” (reivindicação plenamente compreensível, sobretudo em Pernambuco), e não restaria nada para destacar no grupo. Ah, sim: inspiram-se “na construção de uma postura cultural de ação e conscientização aliadas a uma prática politizada que encontre nos movimentos sociais seus maiores ecos e, na música e comportamento, sua maior vanguarda!”. Com esse papo xarope, não é de se espantar que o comunismo foi varrido do mapa. Para serem mais anacrônicos, aos Subversivos só falta o monograma do Partidão bordado nas cuecas.
No palco principal, coube ao The Mission iniciar o Abril Pro Rock. No estágio atual, é impossível escrever sobre a banda do guitarrista e vocalista Wayne Hussey e do baixista Craig Adams sem citar Bacalhau. Por mais esquisito que pareça, o ex-baterista do Rumbora, que substituiu o titular impedido por problemas no visto na vinda anterior do grupo ao Brasil (em 2000), é a alma do grupo. Repetindo a dose, ele esbanjava empolgação - e, em alguns casos, conhecimento das músicas - não mais encontrada nos integrantes originais. Totalmente deslocado do espírito do festival, o Mission cumpriu sua profecia macabra: o evento perdeu mais do que ganhou com a sua presença. Perdeu porque, a despeito do argumento da organização, “pela primeira vez no Nordeste”, não foi para abrigar oitentistas decadentes que criou-se o Abril Pro Rock.
E ganhou pouquíssima coisa, porque pelo menos 90% do público não estava lá motivado por “Wasteland” ou “Beyond The Pale”. Nos bastidores, os Psicopatas resumiam a sensação reinante entre as cerca de 4 mil pessoas. “Quem são esses caras?”, perguntava o vocalista Bernardo. Aos 11 anos, ele não passava de um sonho erótico de seus pais enquanto o Mission já entrava em rota descendente. Maravilhado pela súbita e efêmera fama, o garoto não esboça nenhuma reação com “Severina”, o maior hit do grupo de Bacalhau. “Já dei seis entrevistas hoje”, calcula. À sua volta, Diogo (guitarra, 13 anos), André (baixo, 11 anos), Chico (guitarra, 13 anos) e Arthur (baixo, 11 anos) falam ao mesmo tempo. Com sinceridade desconcertante, contam que já fizeram uns 30 shows, “mas só uns cinco prestaram” e que essa é a primeira vez que vêm a um Abril Pro Rock, “e logo para tocar”, sem nenhum traço de provocação aos milhares de marmanjos que venderiam a alma ao diabo para estar no lugar deles.
Na melhor tradição do rock’n’roll, Bernardo é o sex-symbol (é o mais alto do grupo, quase 1,60m) carismático e comunicativo, e Diogo é o guitar hero caladão, largado (por cima da camiseta, vestia uma camisa rasgada na manga), sempre com a expressão desconfiada no rosto. As descobertas se sucedem. O vocalista e o baixista são irmãos gêmeos nada semelhantes e estão na quinta série, “em salas diferentes”, assim como o baterista, “um pouco atrasado”. Os dois guitarristas estão na sétima. Diogo, André e Bernardo têm aulas de violão com o mesmo professor. A banda surgiu em 2000, mas estabilizou essa formação em 2001. Os cinco espoletas vão posar para fotos e o pai de Diogo, Paulo Roberto Guedes conta que dar instrumentos foi uma idéia para ocupar os moleques hiperativos. “Diogo e Arthur eram os mais atacados.”
Médico dermatologista, Paulo Roberto não vislumbrava a burocracia que enfrentaria para que seu filho tocasse em um festival, apesar de acompanhado pelo pai. Teve de pedir autorização ao Juizado de Menores, álvara dos bombeiros dando conta das providências contra incêndio do Centro de Convenções, descrição das saídas de emergência do local e, por fim, um documento ao Ministério Público comunicando o que os meninos iam vestir durante a apresentação (laconicamente preenchido com “tênis, jeans e camiseta”). “Aí, o escritório de advocacia de uma tia dos gêmeos entrou no circuito”, lembra. “Mesmo assim, da entrada até o deferimento, levou uma semana”, diz ele, que ficou três dias sem trabalhar, em função da papelada. Como troféu, tira do bolso da camisa e brande a autorização do Juizado de Menores gargalhando satisfeito.
Alheios ao drama, os candangos do Prot(o) reativavam o palco 2 com suas guitarras honestas representando o única banda nova do festival que não era do Recife. A tempo de não interromper o gigantesco solo que encerrou o número dos brasilienses, o forró debutou no Abril Pro Rock sob a tenda do Sopa na Cidade, sucessor do saudoso Calcinha Preta - o barraco de dois andares armado em um dos cantos do Centro de Convenções, que servia como boate, consultório sentimental e câmera de vapor. Nesse ano, o negócio estava organizado, com transmissão ao vivo pela FM e terraço onde um Landau sem portas e aberto ao público ficava como sentinela. Não dá para responsabilizar o neon da rádio Cidade, que veicula o programa apresentado por Roger de Renor (o Rogê de “Macô”, de Science), muito menos na zabumba, triângulo e sanfona que animavam os intervalos das bandas, mas o fato é que o espaço não cativou.
Rodolfo fez a atenção retornar para os grandes shows. À tarde, no hotel em Boa Viagem, sua trupe destacava-se pela presença de um jovem senhor, de camisa pólo, calça, sapato e boné, com o rabo de cavalo e uma protuberância abdominal expostos. Misturado àquele bando vestindo roupas XL, tatuados e/ou furados com piercings, o cidadão despertava suspeitas de que talvez fosse um ministro da igreja a qual Rodolfo pertence, caindo na estrada do rock para atestar o comportamento do novo fiel. Prestes a marcar sua volta aos palcos, o vocalista suscitava outras dúvidas. Tocaria músicas de sua ex-banda? Sua empatia com o público seria suficiente para esquentar um show sem hits? Vamos nos acostumar com ele? Não, não e não. Diogo queria mais respostas. “Você, que é jornalista, pode contar que a gente não espalha: ele pirou, né?”
Também não, guri. Quem entrevista Rodolfo desde 1994 nota que ele nunca se mostrou tão convicto e feliz. Se isso vai se traduzir em sucesso são outros quinhentos, mas a coragem de abandonar o posto de símbolo de uma das bandas-símbolo dos anos 90, com bajulação e discos de ouro garantidos, para viver o que acredita não deve ser menosprezada. Rodox, a banda, armou-se do peso necessário para que não se levante a mínima hipótese de que Cristo abomina hardcore ou new metal. Duas guitarras (às vezes uma terceita, a cargo do produtor Tom Capone), baixo (pelo ensandecido Patrick Laplan, ex-Los Hermanos), bateria cavalar (esmurrada por Fernandão, do Pavilhão 9) e DJ. “Quem Dá Mais” introduziu o espetáculo, com o público anestesiado pelo impacto de ver o novo Rodolfo.
Ao contrário do que se cogitava, o tal senhor do lobby do hotel não era um pastor. De bermudão, camiseta e o mesmo boné, ele pulava ao lado do vocalista, fazendo os raps de apoio. Espere aí: é Vágner, ex-Peter Perfeito! Rolou o primeiro discurso da noite. O que nem Diogo, com a camiseta autografada por seu ídolo, nem os fãs e muito menos a imprensa precisavam saber é que as falas de Rodolfo constavam do set list. No papel com a relação da músicas pendurado na mesa de som, um “blá-blá-blá” (sic) escrito antes de “Estreito” e de “Dia Quente” apontavam o momento em que o vocalista se dirigiria ao público. A reação da platéia foi mais de estupor do que de aprovação, exceto na radiofônica “Olhos Abertos”, no “oooô” de “Continuar de Pé” e na versão de “Exodus”, de Bob Marley. Vágner, visivelmente fora de forma, não saía do chão. Sua impulsão atingia, no máximo, 2 centímetros.
Finda a catilinária de Rodolfo, os Textículos de Mary invadiram o palco menor. Mais coeso do que no Abril Pro Rock do ano passado e lançando seu disco no festival, o grupo esclareceu porque havia sido posto por último: seus vocalistas costumam simular coitos anais com o microfone, e fica chato pedir para alguém usar aquele equipamento na seqüência. Durante os preparativos do Pato Fu, Bernardo gabava-se por ter todos os discos do quarteto mineiro. Até o Rotomusic de Liquidificapum, o primeirão, independente, lançado pelo selo Cogumelo? “Não”, decepcionou-se o vocalista dos Psicopatas. Sua coleção não está completa, mas em compensação ele conseguiu entrar no camarim da banda, onde o guitarrista John perguntou quem ali gostava de funk. Ninguém respondeu. “Então como é que vende tanto?”
As perguntas de John continuaram no show. “É verdade que a Tiazinha cantou ‘Eu’ na Casa dos Artistas?” Novamente, ninguém viu – e, se viu, ficou com vergonha de confessar que dava ibope para o reality show do seu Sílvio. Com sucessos que já enchem os dedos de uma mão, o Pato Fu só pecou nas muitas pausas entre uma música e outra, simpatia desnecessária após se permanecer de pé por mais de seis horas. Ao lado do palco, na passagem que dá acesso ao backstage, o pai de um dos Psicopatas batia boca com um segurança para entrar sem a pulseirinha protocolar. “Mas o meu filho é um artista que tocou aí!”, protestava, sem êxito.
No sábado, os Psicopatas não foram vistos circulando pelos bastidores do Centro de Convenções. Perderam de ver Derrick Dorner, o popular Fumaça, vocalista do Sepultura, indo e vindo todo pimpão com a camiseta que liberava o ingresso o camarote da Kaiser. Pela primeira vez, houve um rega-bofe VIP no Abril Pro Rock, no qual a elite recifense divertia-se observando os maus modos da malta roqueira. Na sexta, o papel de “astro-entre-nós” fora desempenhado pelo príncipe das trevas Wayne Hussey. Acompanhado da mulher paulistana, Cíntia (ambos com a camiseta da cervejaria), e de mudança para São Paulo, o líder do Mission habituava-se com os rituais do showbiz silvícola, como acenar para os darks e posar para revistas de celebridades.
Na noite da sutileza zero, coube ao Decomposed God inaugurar as atividades, antes das 6h da tarde. Com 11 anos de carreira consagrados ao death metal, a banda ganhou a primazia por ter tirado o segundo lugar em um concurso promovido no programa Soparia na Cidade para escolher artistas locais. É de se imaginar com o nível dos grupos que não obtiveram classificação. O Ataque 77, no palco principal, por um breve instante deu a pinta que faria o melhor show do dia 22 quando tocou uma versão de “Perfeição” (Legião Urbana), quase um bubblegum diante da podreira dominante. Não eram nem sete da noite e já se contava muito mais gente do que no dia anterior, cerca de 8 mil pessoas. No bis, os argentinos entoaram uma versão ramônica de “Do You Wanna Dance” (“Queres Tu Bailar?”), desfazendo a impressão favorável.
O Prole, vencedor do referido concurso, seguiu a toada com seu choque de guitarras e percussão que (desculpe o trocadilho) não repercutiu. Culpa do Krisiun, um trator que levou a maioria do público para a frente do palco onde ia se apresentar. Os integrantes do Decomposed God, por exemplo, sentiam-se muito mais orgulhosos por tocarem no mesmo evento que o trio gaúcho do que com o Sepultura. Tudo na banda é extremo: os vocais compostos por um constante pigarro; os dois bumbos acionados sem interrupção; o futum com o qual impregnaram o camarim. Com muita moral no exterior, o Krisium (informação relevante: o nome do grupo significa “Mares da Abominação” em latim) revelou que a capital pernambucana também poderia ser chamada de Hellcife (ai!). Que o digam os berros de “Black Force Domain” pedindo pela faixa-título de um disco lançado pela gravadora alemã Gun Records, em 1995.
Os Cachorros encharcaram um pouco mais a camiseta com um pula-pula movido a rap metal e aos temas “skate, violência, atitude e diversão”, como outros 800 grupos que vagam por aí. Mais uma vez, o povo preferia se espremer para esperar o Sepultura. Saudados como heróis, Igor, Andreas, Paulo Jr. e Derrick sacaram “Refuse/Resist” logo de início, para amansar a turba. Um balão com a bandeira de Pernambuco (que virou ícone pop no último Carnaval), jogado pelo público, desviou os olhares do que acontecia no palco. Ia da direita para a esquerda, com investidas para cima de Paulo Jr e Derrick. No fosso, seguranças davam uma de goleiro, impedindo que o balão participasse da banda. Então uns moleques, qual piranhas ensandecidas, agarraram o instruso e o socaram até a morte. Yeah!
Passada meia hora de show, o Sepultura necessitava tocar urgentemente outro hit que até os poseurs conheciam, sob o risco de esfriar o set. Não, não se está falando de “Biotech Is Godzilla” ou da inédita “Corrupted” (quebrada, parecida com as músicas dos imitadores de Sepultura). Finalmente, vêm “Territory” e “Roots Bloody Roots” para exaurir a última reserva de disposição. Chamam o baixista e vocalista do Krisiun, Alex Camargo, para trucidar “Iron Fist”, do Motorhead. Acostumado a berrar empunhando o seu instrumento, ele não sabia onde enfiar as mãos, ora tocando air guitar, ora air bateria, ora simplesmente esmurrando (sem muita firmeza) o ar. No camarote da Kaiser, os convivas deixavam a beirada do mezanino à esquerda do palco, local de visão privilegiada. Cansaram. E, afinal, eram apenas 11h da noite. Ainda dava tempo de se divertir em outro lugar.
Para a última noite, o Abril Pro Rock reservou atrações capazes de espantar o cansaço acumulado de sexta e sábado. Teoricamente, um público não afeito a tribos ou guetos curtiria regionalices pop, engajamento light e gringos com prestígio indie. Na prática, o que se viu foram parcelas distintas para cada segmento. Parte pequena dos cerca de 4 mil pagantes registrados na bilheteria do domingo testemunhou o nativo Bubuska tirar som de um tamborete de madeira, em forma de pirâmide, com dois pedais e uma engrenagem que permitia acionar vários objetos de percussão simultaneamente, o “tamburetom”. Ou o Chá de Zabumba emular seu forró pé-de-serra, com destaque para o sacana hit instantâneo “A Mulé de Tatá” (“Tatá tá aí/ Não, Tatá não tá/ Mas a mulé de Tatá tando/ É o mesmo que Tatá tá”).
Inclua Bernardo, dos Psicopatas, fora dessa: o vocalista perambulava pelas cercanias do famigerado camarote, reproduzindo o clichê do rock’n’roll que reza que só se cai nessa para beber de graça e pegar a mulherada. Dos novatos, menção mais do que honrosa para as experiências do Bonsucesso Samba Clube (não tão novo assim, pois havia tocado no Abril Pro Rock de 2001) com bossa nova com samba com eletrônica discreta, na medida certa. E, realmente novo, o Mombojó, recifenses filhotes de Mundo Livre S/A com DJ Dolores, guitarra e baixo lisérgicos com uma ou outra traquitana digital. Outra fatia da audiência esperava com avidez pelos ícones Stephen Malkmus e Charlatans. O primeiro apresentou-se às 6h, com as pessoas chegando. Ignorou foquinhos pedindo canções de sua ex-banda e privilegiou seu disco-solo. No final, rendeu-se e tocou “In the Mouth a Desert”, do Pavement.
Uma terceira parte da platéia queria panfletar com Tom Zé e Mundo Livre S/A. A banda de Fred 04 cometeu o show de sempre, sem grandes exclamações nem desapontamentos (aliás, por estar em casa, recebeu um calor maior do que o habitual). Por sua vez, o adorado Tom Zé fez exatamente o que dele se esperava: pregou contra o imperialismo, armou seu teatrinho, detonou os ianques e fundiu a cachola do fã dos Charlatans. No público, uma bandeira da Palestina tremulava tranqüila, depois que o baiano mandou parar com “essa porra de balão”. Para delírio coletivo, seu guitarrista tirou “Smoke on the Water”. Tom Zé mandou parar, para esculhambar o Tio Sam – e iniciou uma música que citava o hino do Deep Purple, Stones (“Satisfaction”) e Beatles (“Day Tripper”) com “Meu Limão Meu Limoeiro”. Nem bem acabou o show, sentiu-se mal nos camarins (Emoção? Calor? Macrobiótica? Tudo isso junto?) e foi direto para a UTI, escrevendo mais um capítulo de sua biografia envolvendo Recife.
O nicho indie, encafifado pelas estripulias do tropicalista, enfim veria os Charlatans. O engraçado é que, para essa rapaziada, o clima é uma eterna meia-estação. Faça chuva, faça sol, lá estão eles com seus jeans, camiseta e um casaco por cima. Com menos de três músicas, o vocalista Tim Burgess já abandonara o figurino sufocante, tirando sua jaqueta. Com reflexo no cabelo e um falsete para lá de liberado, o inglês custou para compreender que a única que todo mundo conhecia era “The Only One I Know”. Quando rolou essa, não havia mais nada o que fazer ali, a não ser piadas cretinas. Ao Soup Dragons, ou melhor, Charlatans, faltou um clímax mais duradouro. Ao Stone Roses, ou melhor, Charlatans, faltou a identidade. Ao Oasis, ou melhor, Charlatans, faltou a sinergia com os pernambucanos.
A essa altura, o público não ultrapassava 3 mil pessoas. Burgess declarou que a próxima (“You’re So Pretty, We’re So Pretty”) iria para uma garota que tinha conhecido “ontem à tarde na praia” – a única admiradora que abordou o grupo na areia de Boa Viagem. Veredito: com essa dancinha de ombrinhos arqueados, mãos no bolso e passos desencontrados, ele não vai conquistar ninguém. Diogo teve melhor sorte. Na tenda da Soparia, me apresentou duas tietes dos Psicopatas, ambas com camisetas da banda. “Somos fãs dele”, entregaram-se as candidatas a groupie, beijando-o em cada uma de suas bochechas. Definitivamente, o Abril Pro Rock não se trata apenas de música. Ou se trata de música, sim, mas como um passaporte para prazeres mais profundos. Imagine como foi a segunda-feira no Instituto Capiberibe.



 Há um quê de ironia no lançamento, quase simultâneo, dos livros
Há um quê de ironia no lançamento, quase simultâneo, dos livros 






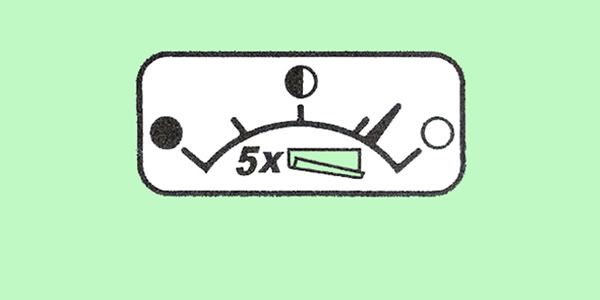



 Praia Grande não tem praia. Nem é grande. A cidade catarinense, a 280 quilômetros ao sul de Florianópolis pela BR-101 (os últimos 20, pela SC-450), destaca-se por estar aos pés da maior concentração de cânions do Brasil. Há mais de 60 deles esparramados entre os parques nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, na divisa com o Rio Grande do Sul. O mais famoso é o Itaimbezinho – “pedra afiada” em tupi –, um paredão rochoso com 5.800 metros de extensão cobertos por vegetação baixa e recortado por cachoeiras que despencam de seus 780 metros de altura. Imagine se fosse Itaimbezão.
Praia Grande não tem praia. Nem é grande. A cidade catarinense, a 280 quilômetros ao sul de Florianópolis pela BR-101 (os últimos 20, pela SC-450), destaca-se por estar aos pés da maior concentração de cânions do Brasil. Há mais de 60 deles esparramados entre os parques nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, na divisa com o Rio Grande do Sul. O mais famoso é o Itaimbezinho – “pedra afiada” em tupi –, um paredão rochoso com 5.800 metros de extensão cobertos por vegetação baixa e recortado por cachoeiras que despencam de seus 780 metros de altura. Imagine se fosse Itaimbezão.