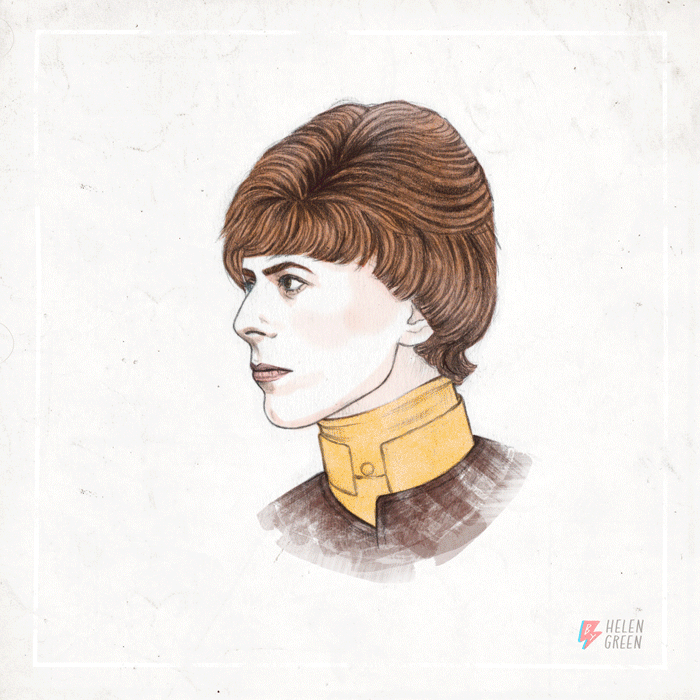O primeiro grande disco do ano é de uma banda de garotas falando sobre amor, todo tipo de amor. Ah, que coisa fofa. É porque você não conhece as Savages. Com essas quatro inglesas não tem mimimi. Em Adore Life, dores de cotovelo, DRs e sexo ilustram manifestos que levam o pós-punk de origem do grupo a novas dimensões. Depois da estreia em 2013 mandando o mundo ficar quieto com o furioso Silence Yourself, agora elas miram o coração. Com mais jeito do que força na combinação vocal-guitarra-baixo-bateria-e-só, mas empregando a mesma intensidade para acertar o alvo em seus diferentes estados.
O amor das Savages engloba mudança, evolução, escolhas, entrega, “o seu direito de pensar pensamentos inaceitáveis”, como a própria banda descreve o sentimento que permeia o álbum. No som, essa ciranda de emoções vai emanando Bauhaus aqui, Wire ali, Siouxsie & The Banshees acolá, entre outras boas influências do período que separa o punk da new wave na virada da década de 1970 para a de 1980. Um pouco de cada, jamais em uma música inteira, apenas o suficiente para construir uma identidade: a pulsão de “Evil” ou de “I Need Something New” parece algo já ouvido; a forma como se desenrola, não.
O completo controle dos climas – do desespero à euforia, passando pela placidez e caos – de “The Answer” e de “T.I.W.Y.G.” chega ao ápice em “Adore”. A quase faixa-título ferve em banho-maria até transbordar perguntando se você adora a vida, em uma eloquente demonstração de que o romantismo da banda transcende o papo eu & você, nós dois. É aquele que rima com idealismo. Marketing ou não, o principal atributo das Savages é a crença no poder da Arte. Elas são tão convincentes nisso que, em tempos de despretensão estética e cinismo exacerbado, fazem a gente acreditar também.
O som do verano
Em noite de (nenhum) medo e (pouco) delírio em Balneário Camboriú, este colunista foi exposto ao que os argentinos ouvem no verão. Nada de Ibete Sangalo, tampouco Wesley Safadón, pelo menos para parcela substancial dos hermanos que invadem as areias da Praia Central com um som a tiracolo. Estava na Avenida Atlântica, em algum ponto entre a praça Tamandaré a Rua 1.500, quando o reggaeton começou a bater. Confira os Top 5:
1 | “Fanatica Sensual”, Plan B
2 | “Como Yo le Doy”, Pitbull ft. Don Miguel
3 | “Hasta la Luna”, #TocoParaVos
4 | “Candy”, Plan B
5 | “Cae el Sol”, Los Bonitos
L ANÇAMENTOS
Tartakingdom Reggae Mix Tape Vol. 2 – O advogado (?!) Marcelo Tonelli mais uma vez defende os amantes do reggae contra as tentações da Babilônia com um argumento infalível: uma seleção mundial de artistas do gênero em um disquinho feito em Florianópolis. Dos haoles, destaque para as duas faixas defumadas do jamaicano Perfect Giddimani, “Cyan Cool” e “Where It All Began”. O acento nativo diz presente com o herói local Zabeba dando seus tapinhas solo (“Jah Abençoe”) ou com Jezux Raggaman (“Bem-vindo à Selva”). O serviço completo você encontra aqui.
(coluna publicada hoje no Diário Catarinense)